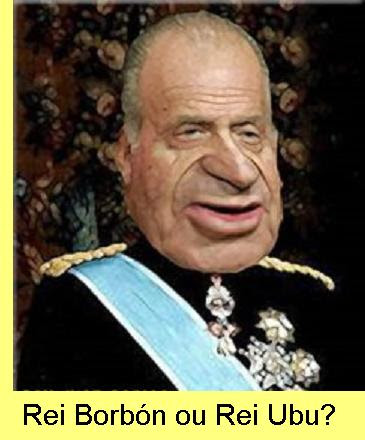por estatuadesal
(Clara Ferreira Alves, in Expresso, 22/08/2020)
 Clara Ferreira Alves
Clara Ferreira Alves
A capital entretém um idílio rural com o Alentejo. Lembro-me de uma época em que todo o intelectual ou profissional desiludido ou cansado queria refugiar-se no Alentejo e reinventar-se por lá, na bravura daqueles estios. Foi a época dos montes e das fantasias campestres em que o alentejano deixara de ser um comunista empedernido para passar a ser um homem do campo, ou mulher do campo, serviçais nimbados da pureza das terras. Em tempos mais recentes, temos a fase do paraíso para reformados europeus endinheirados, a coutada de milionários estrangeiros e “artistas” na costa alentejana, que lhes pertence quase toda e enche as páginas e as rubricas de estilo de jornais e revistas, com fotografias em belas cores. Louboutin, o dos sapatos da sola vermelha, com a casa de Melides, ou as sofisticações de Philippe Starck. E temos a fase dos agricultores dos novos latifúndios, com as culturas de vinho e oliveira, as provas nas herdades desenhadas por arquitetos, as reportagens dos enólogos e dos estrangeiros do centro da Europa, a Europa rica, que fizeram do Alentejo aquilo que não soubemos fazer, a sua casa. Mais o turismo rural, cristalização lucrativa do idílio alentejano.
O Alentejo é tudo isto, e tudo isto deve ter contribuído para o seu “desenvolvimento humano”, visto que nas estatísticas tem uma das taxas mais elevadas do país, e um rendimento per capita anual que, andando à volta dos €19 mil, também seria dos mais elevados do país. Pouco é certo, muito para a nossa pobreza. A segurança e a baixa criminalidade fariam do Alentejo um lugar exemplar da qualidade de vida portuguesa.
Por baixo destas camadas de verniz, um Alentejo bruto e árido como a terra sobrevive, meio esquecido, habitado por desempregados, velhos, suicidas, povoado por aldeias desertas onde não se vê alma num dia de agosto. Casas brancas caiadas que faíscam ao sol de verão sem vestígios humanos. Num café à beira da estrada, derreados pelo calor, um grupo de homens bebe cerveja ao fim da manhã, matando o tédio.
Escolhi vir do Algarve pela estrada de Castro Marim a Beja, passando por Mértola. Há muito tempo que não viajava por ali. A estrada melhorou, e mesmo quando atravessa os montes em curvas e contracurvas é uma estrada ampla e segura. A paisagem está envolvida num silêncio que convida à languidez da gente. Compreende-se a profundidade do cante alentejano, a lentidão das vozes. Nem um sopro sacudia as folhas e os campos sucediam-se, todos destinados a duas culturas. Vinha e oliveira. Os olivais eram recentes, com pequenas árvores recém-plantadas que pareciam estremecer na luz. Como sempre acontece em Portugal, quando uma monocultura dá sustento, abusa-se. Foi assim com o eucalipto. As fiadas de oliveirinhas são maiores do que as de vinhas, e estendem-se durante quilómetros por todo o Baixo Alentejo. O trigo, que costumava tingir a paisagem de amarelo, ausentou-se. Em vez das espigas ondulantes, temos folhas de prata. O azeite vai sobrar para o pão alentejano, que mais parece um pedregulho do que um pão e tem um sabor de torrão.
O sobreiro ainda dá sombra, e em certas regiões onde a terra se vira em pedra, o sobreiro desenha uma solidão na aridez de ferrugem, uma árvore habituada a enfrentar a dureza que não acolhe vinhedo ou olival. O Alentejo não é verde, é amarelo, é vermelho, é metálico, é geométrico. Nada tem de sorrateiro. Aquela brutalidade esculpe os corpos e as feições. E confere à paisagem humana uma indiferença milenar, como se o mundo mudasse em torno, e ali certas coisas não mudassem nunca. A famosa teimosia alentejana, a dificuldade de perder tempo com explicações. Ou direções. Esta característica alimentou gerações de anedotas idiotas.
O viajante que passa assim pelo Alentejo, de rápido, faz a paragem para almoço gastronómico, que dantes significava perguntar aos autóctones. O Tripadvisor dá-nos as instruções em inglês e português, com comentários do Billy, do Phil, da Mary, do Ian. Alguns destes comensais gabam as gambas e o salmão, escolhas complexas na terra das migas e do porco preto.
A um domingo, a maioria dos restaurantes está fechada e os lugares gastronómicos estão reservados e à cunha. Não se vê a quem perguntar pela tasca alentejana até que um restaurante miraculoso na berma da estrada decide estender o horário da cozinha e servir dois pratos do dia. A comida é de reis, abundante e preciosa de gosto e tempero, cozinha com bons ingredientes, mas dentro da sala, na sombra do restaurante vazio com uma mesa ocupada pelos empregados que começam a almoçar, só se ouve um som. O das duas televisões ligadas na CMTV. Impossível escapar à ladainha de crimes perpetrados e por perpetrar, de mulheres e homens esfaqueados e baleados, de cônjuges desavindos, de brigas inconfessáveis e de julgamentos em salas com azulejos brancos e azuis e advogados que falam para as câmaras com a naturalidade de profissionais. A ladainha foi interrompida por uma reportagem sobre uma manifestação contra o fascismo em Lisboa, aparecida primeiro nos rodapés como contra o fascismo e depois contra o racismo. Fechada a rubrica, uma espécie de intervalo lunático, os crimes regressaram.
E avistado assim, daquela janela aberta sobre a violência, o país todo aparecia como um lugar de delito e canalhice, de traição e vilanagem. A televisão dissipava o conforto da comida, o sabor do coentro e do tomate, o javali apimentado, e espancava a sala num pasmo mudo, como se as pessoas não esperassem mais do que aquilo que era oferecido, o óleo de rícino das mortes suburbanas, das agressões passionais e da delinquência geral. Um daguerreótipo onde as personagens só têm a cor da pele, branco também é cor, e onde os maus pertencem a um tipo bem definido, o outro.
Aquela massificação da tragédia gera a indiferença, manda encaixotar a moral e reserva para o espetáculo do mundo uma espécie de desdém. O silêncio da tarde, a liberdade da paisagem, sumiram-se no horror e na normalidade sangrenta. Imagino que várias horas, dias, anos, desta dieta televisiva, engendrem o sono da razão que produz os monstros de Goya. Nesta natureza não há, de facto, pensamento. O Alentejo nutrido e fortificado, mais o da costa do que o do interior, desaparece.
Não surpreende que à entrada da cidade, num resplendor personalizado, o rosto de André Ventura tenha substituído a foice e o martelo. As pessoas que se sentem vítimas de uma injustiça especial precisam de alguém que lhes aponte um destino e um inimigo e lhes atenue a inércia. A planura alentejana tem a melancolia e a desolação dos desertos. A televisão neste belo lugar não passa de uma maldição.

 Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO
ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO