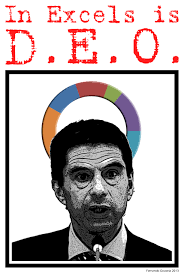(Wolfgang Münchau, in Diário de Notícias, 24/04/2017)

Dentro de dois ou três meses, o presidente Donald Trump e o novo presidente francês serão confrontados com uma importante questão de diplomacia económica: o que fazer com o excedente da balança corrente alemã? No ano passado aquele atingiu 8,6% do produto interno bruto, um número excessivo para a quarta maior economia do mundo. O excedente provavelmente cairá um pouco neste ano e no próximo, mas a sua dimensão e persistência constituem uma das maiores fontes de desequilíbrio na economia global e dentro da zona euro.
Se quem está de fora decidir enfrentar a questão, precisará de o fazer de forma inteligente. Até agora, a Alemanha repeliu todas as críticas. A Comissão Europeia apresenta anualmente relatórios sobre os desequilíbrios macroeconómicos. Os cestos de papéis de Berlim estão cheios deles. Os sucessivos presidentes franceses também optaram por não levantar a questão. A sua prioridade durante a crise da zona euro foi manter a cabeça baixa e evitar aparecer nos radares dos “vigilantes” de títulos. Desde que conseguissem financiar os seus empréstimos soberanos, tudo estava bem.
Os desequilíbrios na economia global, e na Alemanha em particular, não são estimulados pelo comércio. A Alemanha não está a subsidiar as suas exportações, nem a manipular a sua moeda. O problema é um excesso de poupança em relação aos investimentos. Isso deve-se a más políticas e ao envelhecimento da população.
As sanções comerciais não conseguem resolver um desequilíbrio de poupança. Acho que a Alemanha iria responder a tarifas punitivas tentando baixar mais ainda os custos de produção, o que iria agravar o problema. Em vez disso, o mundo deve fazer que a Alemanha enfrente as causas dos excedentes de poupança: setores de serviços excessivamente regulamentados; baixos níveis de crescimento dos investimentos dos setores público e privado; excedentes orçamentais prejudiciais e desnecessários.
Um bom ponto de partida seria explorar as contradições internas da defesa da Alemanha dos excedentes. Antes das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington na semana passada, o governo de Berlim produziu um documento que dizia que os EUA não se deveriam preocupar com as suas relações bilaterais com a Alemanha, mas sim com as relações com a zona euro.
O documento privado argumentou que a Alemanha não pode logicamente ser um manipulador de moeda, uma vez que já não tem uma moeda própria. Se o euro está subvalorizado, não é culpa da Alemanha, mas uma consequência das políticas monetárias do Banco Central Europeu. A mensagem parece ser: não falem connosco, falem com Bruxelas ou Frankfurt.
Esta é uma defesa extraordinária. Se a Alemanha culpa a zona euro, então é evidente que os Estados Unidos e os outros membros da moeda única devem insistir para que o bloco tenha poderes para resolver o problema de forma mais eficaz.
No ano passado, a zona euro teve um excedente em balança corrente de 3,4% do produto interno bruto, inferior ao da Alemanha em termos relativos, mas ainda extremamente grande para a segunda maior economia do mundo. Significa que a zona euro terá de alcançar, pelo menos, uma capacidade orçamental conjunta e o direito de impor políticas aos Estados membros para influenciar a relação entre poupança e investimentos.
Como o governo alemão rejeita essas políticas, o argumento de Berlim sobre a zona euro é falacioso. Os outros Estados membros não devem permitir que a Alemanha lhes aponte o dedo, porque ela mantém desequilíbrios enormes com eles, bem como com o resto do mundo.
Então o que devem eles fazer? Estou a escrever esta coluna antes de ser conhecido o resultado da primeira volta das eleições francesas. O que eu sei é que a classe política francesa falhará se não pressionar a Alemanha para resolver a questão. Se a Alemanha aceitar políticas para corrigir os desequilíbrios, ou concordar com as reformas da governação da zona euro ou, idealmente, ambas as coisas, então a estratégia francesa mais inteligente será procurar uma estreita parceria com Berlim e forjar as próximas etapas da integração europeia. Esse seria o meu cenário preferido. A sobrevivência do euro exige tal passo.
Se a Alemanha continuar a recusar-se a abordar a questão, será tarefa do próximo presidente francês transmitir a Angela Merkel ou ao seu sucessor como chanceler alemão que a zona euro não é uma construção sustentável e que o euro perderá ao longo do tempo o apoio do público, especialmente em França.
Não há garantias de que a Alemanha se deixe impressionar por uma ameaça destas. Mas uma desintegração da zona euro constituiria um tal desastre económico para a Alemanha que seria do interesse do país ajustar a sua política, em vez de arriscar outra crise com consequências potencialmente desastrosas.
Apenas França está em condições de forçar a questão, porque detém a chave para o futuro do euro. Assim, a estratégia mais inteligente para os Estados Unidos deve ser forjar uma aliança estratégica com França para enfrentar a Alemanha, em vez de optar por sanções comerciais unilaterais, que são, na melhor das hipóteses, uma diversão.
Ovar, 24 de abril de 2017
Álvaro Teixeira